Em busca do sagrado (ou não): uma resenha de Em Que Creem Os Que Não Creem
Introdução
Quando a fé e a razão se encontram em um diálogo aberto e respeitoso, nasce algo raro: um espaço real de escuta. É exatamente isso que propõe o livro Em Que Creem Os Que Não Creem, fruto da correspondência entre dois nomes que não poderiam ser mais distintos — e mais complementares: o escritor Umberto Eco e o cardeal Carlo Maria Martini.
Publicado originalmente na Itália nos anos 1990, o livro reúne uma série de cartas trocadas entre Eco, ateu declarado e intelectual brilhante, e Martini, então arcebispo de Milão, profundo conhecedor da teologia cristã. A proposta, inicialmente lançada pelo jornal italiano Liberal, era simples: discutir temas essenciais da existência humana como a ética, a morte, a esperança e a busca por sentido — cada um a partir de sua perspectiva.
O resultado é uma leitura envolvente e provocadora, que nos convida a refletir não só sobre o que cremos, mas como cremos — ou deixamos de crer.
Enredo
Não há, propriamente, um “enredo” em Em Que Creem Os Que Não Creem, no sentido tradicional da ficção. Trata-se de um livro epistolar, composto por cartas e textos reflexivos escritos por Eco e Martini, que vão se alternando ao longo das páginas.
Os temas surgem a partir de uma primeira provocação feita por Eco: em um mundo cada vez mais secularizado, será possível manter uma ética sem a fé? Martini responde, e o diálogo se desenrola a partir daí, abordando assuntos como a existência de valores universais, o papel da religião na sociedade moderna, o sentido da morte e da esperança, e até a figura de Jesus — interpretada sob diferentes óticas.
O tom é sempre respeitoso, e o contraste entre as visões de mundo não gera confronto, mas sim uma curiosa harmonia. É quase como assistir a uma partida de xadrez entre dois grandes mestres — cada um com seu tabuleiro, mas jogando no mesmo espírito.
Análise crítica
Ler Em Que Creem Os Que Não Creem é como estar em uma sala silenciosa, iluminada por uma luz suave, ouvindo dois homens sábios trocando ideias sem pressa. A linguagem de Eco é irônica, sofisticada, mas sempre acessível; sua mente filosófica transita com naturalidade pela história, pela semiótica, pela literatura. Já Martini é sereno, direto, e profundamente humano — sua escrita exala compaixão, mesmo nos momentos de firmeza.
O livro é curto, mas denso. Não se trata de uma leitura rápida, nem deve ser. Cada carta pede um tempo de digestão, como um vinho encorpado que merece ser saboreado. Os temas são universais, e mesmo leitores não religiosos — como é o caso de Eco — encontrarão aqui uma conversa honesta sobre ética, dor e transcendência.
Uma das maiores qualidades do livro é não tentar converter ninguém. Eco não tenta provar que Deus não existe, e Martini não quer salvar almas pela escrita. Ambos partem do princípio de que o diálogo é possível, mesmo quando não há consenso. E isso, num mundo cada vez mais polarizado, é revolucionário.
Conclusão
Terminei Em Que Creem Os Que Não Creem com a sensação de ter aprendido mais sobre mim mesmo do que sobre fé ou razão. Porque, no fundo, o livro não fala apenas de religião ou de filosofia — fala de humanidade. De como somos feitos de perguntas, e de como é possível crescer quando ouvimos quem pensa diferente.
Recomendo esta leitura a todos que buscam mais do que respostas: que buscam boas perguntas. Aos que apreciam diálogos inteligentes, que não subestimam o leitor. E, especialmente, aos que acreditam que o respeito mútuo é uma das maiores formas de sabedoria.
Se você gostou de livros como O Nome da Rosa ou se já se sentiu desafiado por questões de fé, espiritualidade ou ética, este livro pode ser um companheiro instigante. Leia com calma. Leia com abertura. E prepare-se para sair diferente.
Leituras que provocam e iluminam

Em Que Creem os Que Não Creem
Em Em Que Creem os Que Não Creem, Umberto Eco e Carlo Maria Martini travam um profundo diálogo entre fé e razão, abordando temas como ética, transcendência, ciência e espiritualidade. Um encontro respeitoso entre visões de mundo distintas, que enriquece e desafia o leitor.
Se você se interessou por Em Que Creem os Que Não Creem, considere comprá-lo através do nosso link de afiliado acima. Isso ajuda o blog a continuar produzindo conteúdo literário independente, sem custo adicional para você.
#afiliado #comcomissao
.jpg)
.jpg)
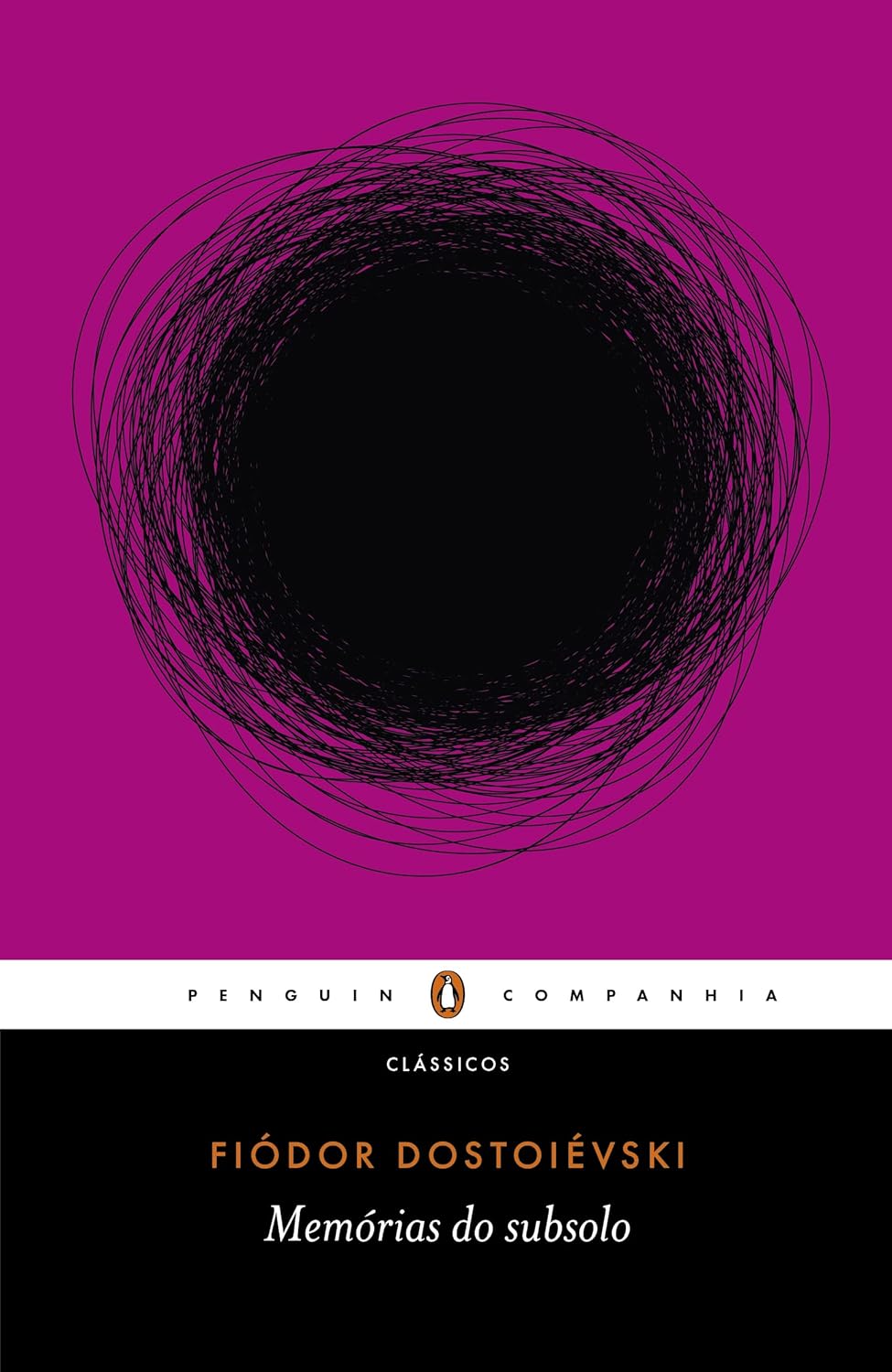
.jpg)

.jpg)
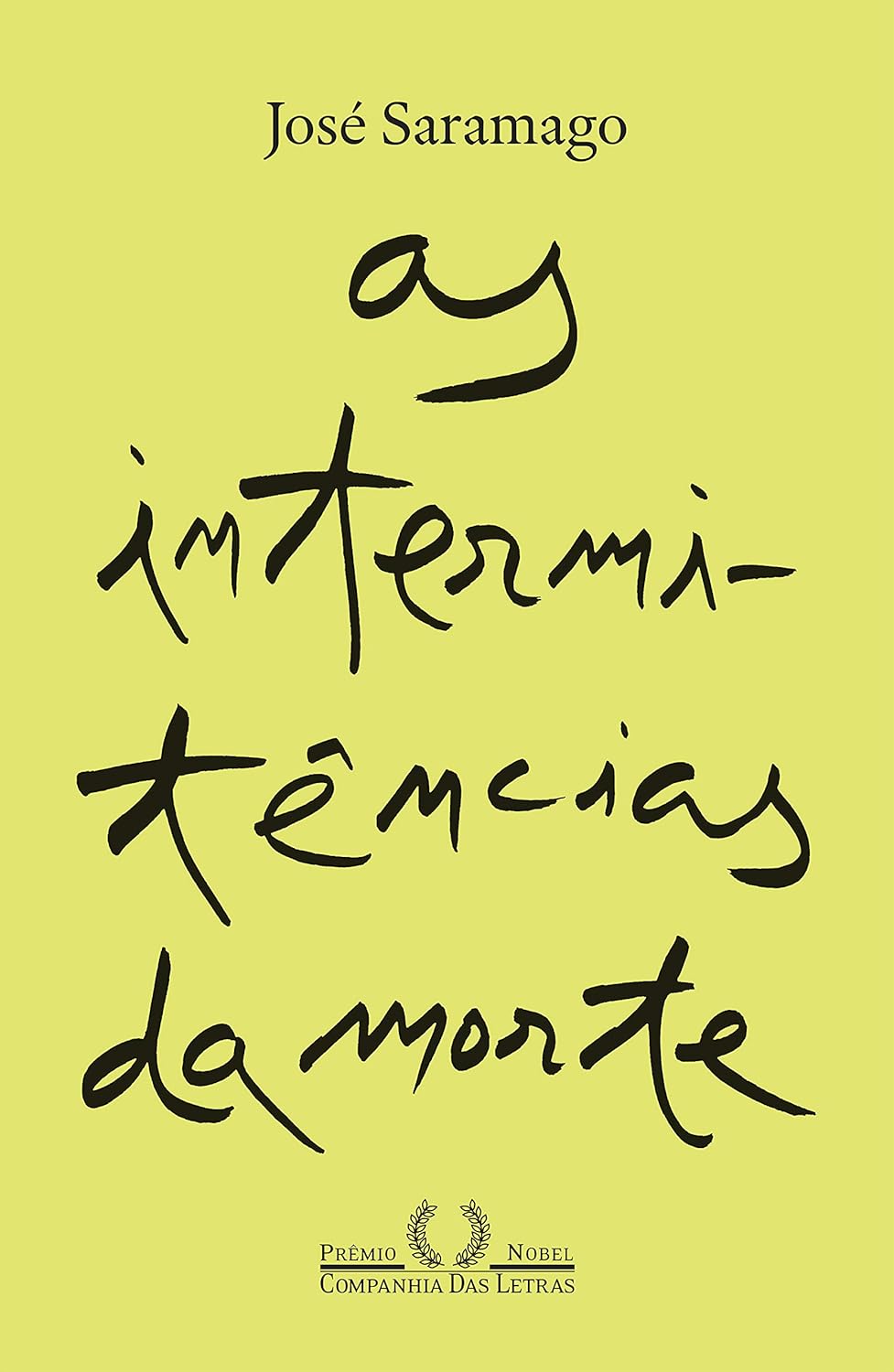

.jpg)

.jpg)

.jpg)
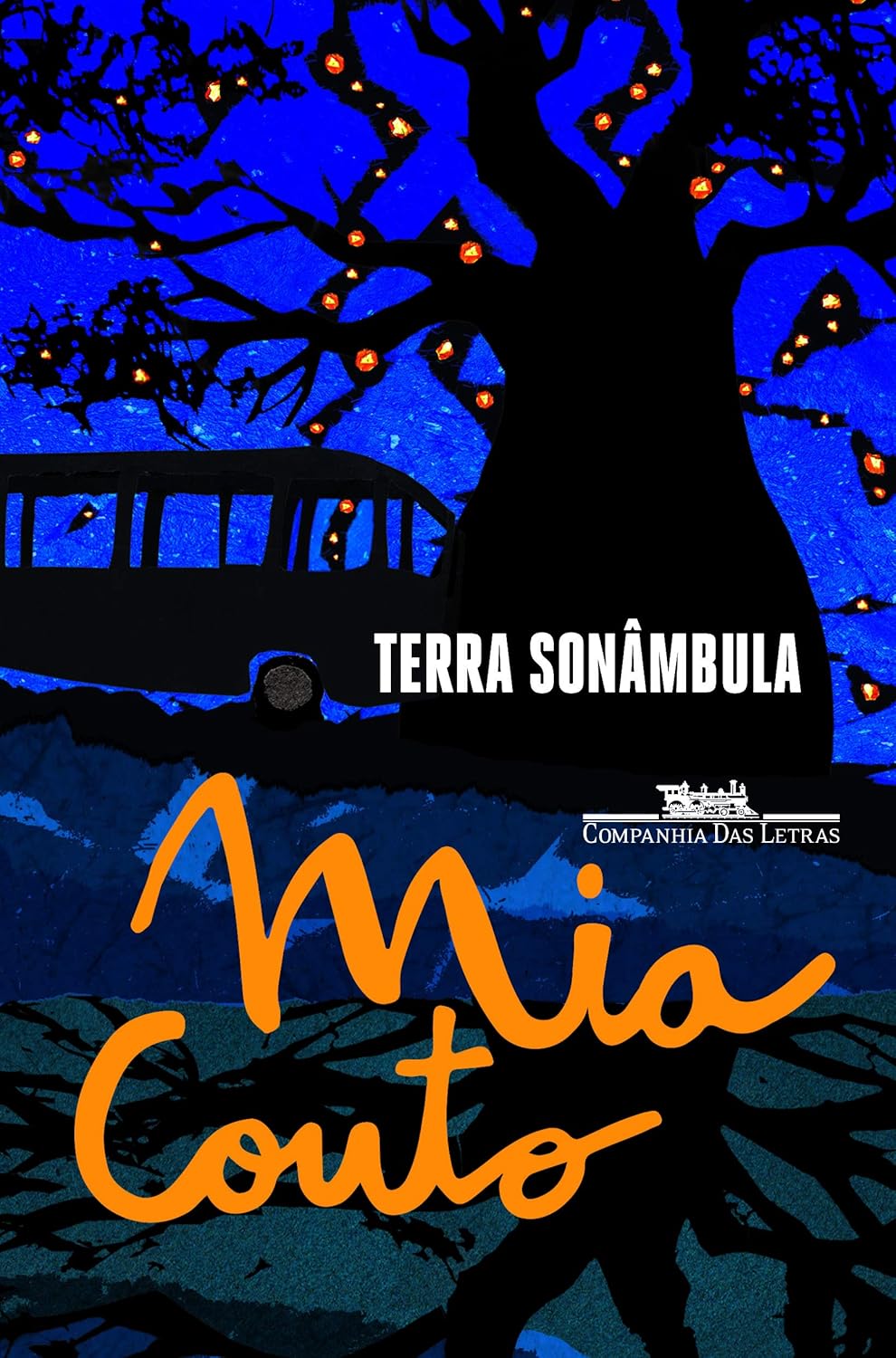
.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)
